A revolução do amor
Autor: Luc Ferry (1951 - ), filósofo francês
Gênero: Filosofia
Ano: 2010
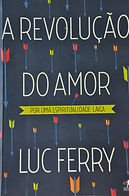
Quando ganhei este livro da minha mãe tinha acabado de terminar um relacionamento longo e a última palavra que eu queria ouvir era "amor" ou qualquer coisa relacionada a ela. Porém, logo chegou o inverno e os dias de chuva me fizeram procurar alguma atividade dentro do barco. Desde o término da faculdade de psicologia eu não tinha mais tocado em livros de filosofia ou psicologia e o "Revolução do amor" foi uma ótima oportunidade para voltar a refletir sobre o a existência e o pensamento humano. Alem disso, sendo apaixonada pelas obras do passado, raramente me pego lendo algo que trate do presente (a não ser jornais e reportagens), e foi muito reconfortante sentir-me acompanhada em minhas divagações acerca do contemporâneo
Luc Ferry critica as teorias pessimistas que vêem o século XXI como um momento de perda de referências e esvaziamento de sentido, defendendo que a crise dos valores tradicionais nos levou a uma nova visão de mundo. Passeando pela filosofia, política e religião o autor demonstra como chegamos no que ele chama de "espiritualidade laica", na qual o maior valor é o amor.
Alguns trechos do livro
PARTE 1: THEORIA
-
Bougisme: agitação contemporânea
-
“Le blues du businessman”, Claude Dubois
-
Canção de Aznavour - vida de boemia (La bohème)
-
Filmes antigos: Les disparus de Saint-Angil e Topaze
-
Vida de boemia:
-
1º uso: “Historietas” de Tallemant, descrever dândi, século XVII.
-
-
romantismo: George Sand - se torna popular. Designa “roms” (Aqueles que viajam e não criam raízes. Acreditava-se que eles viessem da Boêmia.) e, por analogia, aos vanguardistas que eram de certa forma desenraizados.
-
1844. Balzac, excentricidade, marginalidade. Aspiração a uma vida “não burguesa”, livre e liberta de convenções. Não quer o dinheiro nem o sucesso social, é um revolucionário herdeiro de 1789. Quer destruir o antigo regime para fazer uma criação autêntica (arte genial).
-
herdeiros de Descartes e revolucionários franceses, libertar-se da história (Rabaut Saint-Etienne)
-
poetas Gerard de Nerval (la bohème galante), Théophile, Gauthier, Pétrus Borel. 1º é “Cenas da vida boêmia”, de Heinrich Mürger (alemão que vivia em Paris), tornou-se La Bohème, de Puccini.
-
Saint Simon: 1º a usar o termo “vanguarda” sem sentido militar. Se vêem em quadros de Cézanne, versos de Richepin, música de Brassens.
-
Habitam margens do sistema: x camponeses e x burgueses.
-
agrupamentos: diversos nomes; contemporâneos do ambiente do declínio.
-
muitos tipos mas com a JUVENTUDE como ponto em comum. Culto à juventude, seguirá no século XX.
-
individualismo revolucionário (diferente das tribos tradicionais)
-
1º grupo vitorioso: Bateu-Lavoir (Picasso). Dadaísmo (tristan Tzara, 1930), situacionistas (1950), Maio de 68 (democratização do vanguardismo boemio).
-
Principal pensador: Nietzche, “filosofia do martelo” (niilismo)
-
-
mudança de valores construída pelos boemios: reconciliação entre vanguarda e burguesia
-
(movimentos complementares, e não opostos)
-
2 globalizações
-1ª: compreensão racional = pretende a universalidade. Ligação intelectual entre todos os seres humanos. Objetivo era “dominar a natureza”
- 2ª: competição global = necessidade de renovar o tempo todo (mas fazendo-o sem sentido, só pela competição). 4 consequências:
- perda radical do sentido da história
- perda do controle sobre o mundo (políticas nacionais não movem); os mercados financeiros controlam (mercantilização do mundo, hiperconsumo). Hans Jonas, “O princípio da responsabilidade”.
- hiperconsumo: Individualização do consumo; tudo vira mercadoria (cultura, religião, política, etc)
- contradições morais (na vida pessoal busca os valores tradicionais mas trabalha para desconstruí-los).
NOVO HUMANISMO
-
Philippe Ariès - “História das mentalidades”
-
casamento não se baseava no amor
-
como nasce o casamento por amor? Edward Shortes, “O nascimento da família moderna”.. Pessoas deixam a aldeia e o campo para trabalhar na cidade. Liberam-se dos olhos dos outros e adquirem autonomia financeira (se livra do comunitarismo).
-
-
Globalização liberal: desconstrução da tradição (devido à competição e inovação constantes) e união amorosa livre / socialização do humano.
-
Consequências da escolha da união amorosa:
-
divórcios aumentam
-
laicismo (distanciamento da igreja)
-
surge a vida privada
-
surge o amor parental (incondicional e superior aos outros)
-
privado se torna fator de abertura para o público
-
-
2 humanismos:
-
1º humanismo: Kant e Voltaire, direito e razão = humanismo da nação. Humanização da civilização (européia), nações esclarecidas. Desconstrução: 1968/1970 (reivindicação dos direitos das minorias).
-
2º humanismo: do amor, transcendência do outro. Passa a um universalismo mais abrangente. Laço entre busca de autonomia, “pensar por si mesmo” e auto-reflexão da ciência histórica.
-
PARTE 2: MORAL
-
2º humanismo não renuncia ao 1º (preso aos princípios da república = Estado de direito, liberdade, racionalidade científica), mas integra desconstrução das tradições e desenvolvimento das esferas privadas (socialização do humano)
I - Ética aristocrática dos antigos: 3 princípios fundamentais
a - cosmológico-ético. Cidade justa reflete hierarquia natural. 3 classes: dirigentes (inteligência), soldados (coragem) e artesãos (temperança). Corresponde às três partes da alma e às três partes do corpo. Princípio cósmico é ininteligível (acessível) e divino (não criado pelos homens), mas natural.
b - virtude é um prolongamento harmonioso das disposições naturais. Virtude não tem relação com a força de vontade e sim com a herança e educação (que é finita)
c - trabalho não é moralmente valorizado (por ser algo que domestica a natureza em nós e fora de nós). Não trabalham, não transformam uma natureza que é em si excelente.
II - Moral judaico-cristã (teológico-ética)
Parábola dos talentos. Dignidade não depende dos dons naturais, mas da vontade e liberdade. 4 princípios:
a - idéia de igualdade: desigualdades naturais, mas igualdade moral (liberdade)
b - fins que não habitam mais a natureza : fins se opõe às indignações de sua natureza (trabalho, não exercícios). Muda o significado de trabalho.
c - trabalho passa a ser hominização do homem - monges trabalham como camponeses,
d - religião que permite o laicismo (cada um julga saber sobre o bem e o mal).
III - Moral republicana
Distinção entre o bem e o mal apoiada no homem como tal. Revolução científica questiona cosmologia e teologia. Leva o homem a si mesmo.
1- Pico della Mirandola - “Discurso sobre a dignidade” - 1486. Mito de Prometeu (homem é o único que não é “prefigurado”). Liberdade
2- Antes de Pico: humanismo de Pitágoras. “Não existe história verdadeira sem linguagem, como ela também não existe sem liberdade.” (p. 158)
3 - Evolução do humanismo: Rousseau, Kant, Sartre.
- Rousseau: animal ≠ homem (liberdade) - capacidade de se emancipar. Natureza x história (para onde caminha o “progresso” da humanidade?
- Kant: em quê enraizar uma nova ordem? Na vontade do homem (construída pela liberdade). Ética = desinteresse e universalidade. Desinteresse = moral antinaturalista. Bem comum = distanciar de si mesmo para se aproximar dos outros.
- Existencialismo e fenomenologia: contra religião e marxismo (que pensam em uma essência que precede a existência).
- Implicações fundamentais do 1º humanismo: antiracismo, laicismo e antisexismo: não existe “natureza” do ser humano em geral; tem uma natureza e uma história mas não “é” nenhuma delas. Libertar-se de sua origem para elevar-se (melhorar. Parábola dos talentos). Valorização do trabalho. Promete mundo da democracia, república, razão e progresso.
PENSAMENTO NEO REPUBLICANO
-
ideologia etnocentrica e imperialista inerente ao 1º humanismo (aceitação do colonialismo e racismo).
-
desconstrução século XX (críticas que levarão ao 2º humanismo):
-
1: anticolonialismo. Historicidade do homem o opõe ao animal - colonialismo = primitivos se mantiveram fora dessa historicidade e, portanto, devem ser educados (“humanizados”). Não se trata de uma universalidade total porque separa aqueles que “não entraram totalmente para a história”).
-
2: Nietzsche (niilismo perfeito). Visões morais do mundo são marcadas pelo niilismo.
-
Nihil = nada. Usado por Nietzsche para designar os ideais, ídolos que possuem estrutura metafísico-religiosa (inventados para dar significado à vida). Carregado de convicções fortes morais. Idealismo x niilismo (denuncia ideal em nome do real)
-
Humanismo leigo e cristianismo se parecem, porque concentram o espírito do niilismo (estrutura do ideal oposto ao real). Em um primeiro momento o racionalismo põe fim a algumas ilusões da igreja, para depois reinventar ideais superiores.
- Nietzsche crê que é preciso livrar-se do IDEALISMO, reconciliar-se com o real.
- O que vem depois? Ideologias do direito à diferença (IV) e segundo humanismo (V)
IV - Culto da autenticidade e da diferença
-
1960 - individualismo revolucionário, desconstrução do “tradicional” em nome de utopias radicais, cuja matriz principal foi fornecida pela vida boêmia. Antiaristocratismo (igualdade democrática, direito de ser o que se é) e antirepublicanismo (considera alienante. Creen que o objetivo da escola seria tornar os seres o que eles são).
-
Renovação pedagógica: pedagogia do trabalho X pedagogia do lúdico e auto-construção.
-
polêmica remonta século XVIII (“Emilio”, de Rousseau)
-
Kant: liberdade total (anarquia); pedagogia do treinamento convém para os animais para Kant; cidadania republicana do trabalho (unir liberdade e disciplina. Contrato social: cidadão é ativo e passivo - vota leis, mas deve obedecê-las -. Ideais transcendentes).
-
individualismo democrático-revolucionário. “(…) o essencial não é mais confrontar com normas coletivas exteriores, verdadeiramente “imponentes”, mas alcançar a expressão da própria personalidade” (p. 191)
-
normatividade = alienação. Culto da diferença. Rejeição da uniformidade característica da globalização.
-
aprender a ressingularizar (Felix Guattari)
-
liberalismo libertário da autenticidade X universalismo, espaço público.
-
como as 4 primeiras visões morais se mantém atuais. Por exemplo, ainda se colocam crianças para estudar artes ou esporte.
-
V - Segundo humanismo
-
transcendência NA imanência (relação com a exterioridade com origem na interioridade)
1- dos direitos do homem à ação humanitária.
-
1º humanismo - universalidade restrita a uma nação ou comunidade
-
2º humanismo - universalidade universal. Não permitir que se faça o mal ao outro.
2- Amor e ódio supõe liberdade (= libertação da natureza)
Excesso que não se inscreve na lógica natural.
3- Transcendência NA imanência
Não existe fundamento último. Fenomenologia da exterioridade. “(…) seu princípio fundador é que não inventamos a verdade, a justiça, a beleza ou o amor (…), nós os descobrimos em nós mesmos (…) sem que possamos identificar-lhes a origem ou o fundamento último dessa doação.” (p. 217)
PARTE 3: ESPIRITUALIDADE
-
Cosmológico-ética = “lugar natural” no universo.
-
Teológico-ético = mandamentos divinos
-
Século XVIII - 1º humanismo - Estado de direito - nova ordem justa. Segundo humanismo -conciliação mais ampla.
-
2 noções de fraternidade - solidariedade (republicana, Estado) e coração (afetiva, carnal)
-
3 esferas da vida: filosofia (espiritualidade laica), arte e política
-
Espiritualidade laica
-
Valores morais (como nos comportamos com o outro) X valores espirituais (relacionados com amor, morte, luto, etc). 2 tipos de valores espirituais: com Deus (religiões) e sem Deus (filosofia)
-
1º caso de espiritualidade laica = Ulisses. Objetivo de Poseidón era fazer com que Ulisses esquecesse o sentido da viagem. Ulisses nunca vive o presente, sempre está no passado ou futuro (antípoda de Carpe Diem). O fim da vida não é a morte, mas aceitar nossa condição de mortais, “alcançar a vida boa nessa terra.” (p. 239)
-
Noção de espiritualidade repousa sobre 3 critérios fundamentais:
-
aceitar nossa condição de mortais
-
passado e futuro são focos de angústia; viver no presente
-
vencer os medos para alcançar a serenidade
-
Nietzsche retoma no conceito de AMOR FATI
-
-
Condição do homem moderno (diferente dos gregos):
-
nova relação com a morte (mais expostos e menos protegidos)
-
sabedoria cósmica X sabedoria do amor (universal, reorganização dos valores antigos, compromete a totalidade do ser humano)
-
I - Revoluções da filosofia
-
psicanálise X filosofia
-
contradição entre o amor e a morte - Gilgamesh. Objetivo = glória, eternidade.
-
-
Estóicos: tudo se baseia no Cosmos.
- castração de Urano = nascimento do espaço e do tempo. Kronos + Reia = 6 filhos (Zeus é o mais novo)
- guerra dos deuses = titãs X olímpicos (erradicar forças caóticas). Dividir o mundo segundo a justiça. Cosmos é divino e lógico. Fusão com o cosmos = ser fragmento da eternidade,
- preparação para a morte = 3 princípios : não apego, tudo se transforma / não se perde , diferenciar o que depende de nós (moral) ou não.
2. Epicuristas: medo da morte é absurdo.
- medo da morte ligado ao modo errado de habitar o tempo.
- lógica do desejo é movida pelo medo da morte, mas é o que nos faz morrer antes do tempo.
- solução = limitar-se aos desejos naturais e necessários, admitir os naturais não necessários.
- filosofia e religiões: análogos mas não idênticos. “Salvar” os homens.
3. Buda: ao refletir sobre a morte damos sentido à vida.
- crítica da esperança, elogio do des-espero;
- libertar-se do eu (porque o espírito é impessoal)
- vida monástica: retirada dos apegos amigáveis e familiares.
4. Schopenhauer: 1º humanismo (espiritualidade deixada às religiões ou criação de religiões de salvação terrestre).
- Nossa existência é desprovida de sentido.
- vontade (“essência”) X representação (individualidade, consciência)
- fazemos parte de uma comunhão eterna, por isso não devemos temer a morte
5. Cristianismo: morte da morte = ressurreição
- imortalidade da alma, reivindicação do corpo, salvação pelo amor.
- amor do apego quando o objeto é divino.
CONCLUSÕES
-
Aprender a viver no presente
-
Amamos algo insubstituível
-
Amor da sentido NA existência
-
Antinomia - Tristão e D. Juan.
II - Arte e política
-
Revoluções da arte: arte passa para o sensível (não pela racionalidade)
-
Arte grega = concepção harmônica do universo
-
Medieval = esplendores do divino
-
Reforma protestante = cenas cotidianas, humano no centro
-
Atualmente = apresentar o “inapresentável”; invenção radical, originalidade
- Virtude da vanguardia =liberar dimensões humanas (2º humanismo)